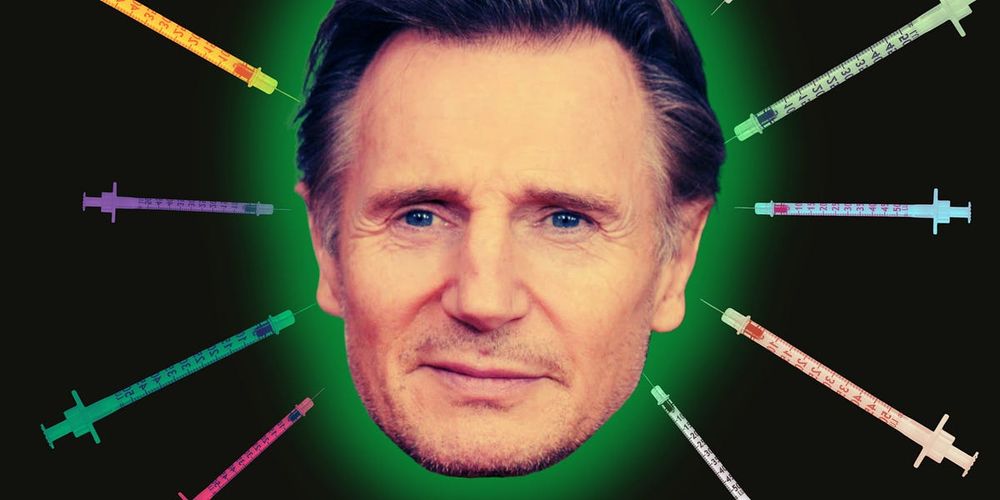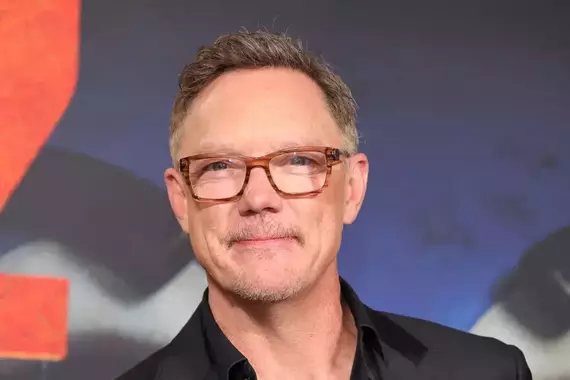Há actores que parecem desafiar o tempo. Dick Van Dyke é, sem dúvida, um deles. O lendário intérprete de Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang e da inesquecível The Dick Van Dyke Show celebra 100 anos no dia 13 de Dezembro e, para lá da inevitável pergunta sobre genética ou sorte, o próprio actor tem uma resposta surpreendentemente simples: nunca ficar zangado.
Pode soar a conselho de avô simpático, mas a verdade é que a ciência parece estar decididamente do lado de Van Dyke. Ao longo das últimas décadas, múltiplos estudos têm associado níveis baixos de stress, uma atitude optimista e uma boa gestão da raiva a uma maior esperança de vida — e não apenas de forma simbólica, mas com impacto mensurável na saúde.
ler também : Skarsgård contra Skarsgård: pai e filho, cinema, feridas antigas e uma improvável rivalidade na época dos prémios
Dick Van Dyke nunca escondeu que encara a vida com leveza, humor e curiosidade. Mesmo aos 100 anos, continua a exercitar-se várias vezes por semana, mantém-se activo mentalmente e, sobretudo, evita alimentar ressentimentos. Essa recusa em viver permanentemente irritado pode ser mais poderosa do que parece.
O que diz a ciência sobre optimismo e viver mais
Um dos estudos mais citados nesta área remonta à década de 1930, quando 678 jovens freiras foram convidadas a escrever pequenos textos autobiográficos ao entrarem para o convento. Décadas mais tarde, investigadores analisaram essas narrativas e cruzaram-nas com dados de saúde e longevidade. O resultado foi notável: aquelas que expressavam emoções mais positivas — gratidão, esperança, serenidade — viveram, em média, dez anos mais do que as que demonstravam maior negatividade.
Resultados semelhantes surgiram noutros estudos, incluindo investigações realizadas no Reino Unido e análises mais recentes envolvendo cerca de 160 mil mulheres de diferentes origens étnicas. Em todos os casos, o padrão repete-se: optimismo está associado a uma vida mais longa e a menor incidência de doenças cardiovasculares.
A explicação passa, em grande parte, pela forma como o corpo reage à raiva. Episódios frequentes de irritação desencadeiam a libertação de adrenalina e cortisol, as principais hormonas do stress. Mesmo explosões breves podem afectar negativamente o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças como enfartes, AVCs e diabetes tipo 2 — responsáveis por cerca de 75% das mortes prematuras.

Stress, envelhecimento… e telómeros
Há ainda uma dimensão microscópica nesta equação. O stress crónico tem sido associado ao encurtamento acelerado dos telómeros — estruturas que protegem os cromossomas e desempenham um papel fundamental no envelhecimento celular. Quanto mais curtos se tornam, mais difícil é para as células regenerarem-se de forma eficaz.
Estudos indicam que práticas que reduzem o stress, como a meditação ou técnicas de respiração, estão associadas a telómeros mais longos, sugerindo um envelhecimento celular mais lento. Em termos simples: menos raiva, menos desgaste interno.
Curiosamente, tentar “libertar” a raiva de forma explosiva — gritar, bater em objectos ou correr até à exaustão — não ajuda. Pelo contrário, mantém o corpo em estado de alerta e prolonga a resposta de stress. Estratégias mais calmas, como abrandar a respiração, focar-se no momento presente ou adoptar rotinas de relaxamento, são muito mais eficazes.
Um actor que sempre soube brincar com o tempo
Nada disto transforma Dick Van Dyke numa fórmula mágica ambulane, mas ajuda a explicar porque é que continua lúcido, activo e cheio de energia ao chegar aos 100 anos. O seu conselho não é o de um cientista, mas o de alguém que passou uma vida inteira a fazer rir — e a não levar tudo demasiado a sério.
ler também : Jason Momoa muda de planeta e de atitude: o primeiro olhar sobre Lobo no novo DCU já está aí
Num mundo cada vez mais ansioso, acelerado e permanentemente indignado, talvez haja algo de profundamente moderno nesta filosofia aparentemente antiquada. Para Van Dyke, viver bem sempre foi tão importante como viver muito. E, ao que tudo indica, uma coisa ajudou claramente a outra.